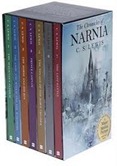Aquele lugar em que o chão é de pó, barro, ou asfalto esburacado. Onde encontro aquela casa insalubre, aquele barraco de madeira e sucata. Sem estrutura, sem saneamento. Sem escola, sem hospital.
Ou aquele lugar em que o caminho é feito de pedras. Pedras de crack, caminhos de escravos. Seu reino pela droga. A morte e vida nos rincões abandonados do centro esquecido da metrópole.
Ou ainda, aquele lugar ocupado por gente cujo sonho era, apenas, um teto. Terra de trabalhadores, de explorados, de famílias cujas raízes já cresciam profundas naquele solo batido.
Aqueles lugares onde alguns talvez jamais ousaram pisar, tamanho medo, tamanho nojo. Mas que, não por menos, não deixaram de ameaçar e destruir.
Assistimos, neste ano que se encerra, episódios dignos de arrepio. As favelas da cidade de São Paulo queimaram. Incêndios, vidas e casas destruídas na “locomotiva” do Brasil. Redutos de gente pobre em áreas de valorização imobiliária. Os barracos paulistanos se tornaram mais propensos à combustão do que em outras favelas do país. Respostas ausentes. Famílias sem destino, sem esperança do que fazer no dia seguinte, sem seu lugar precário e desassistido sob o qual se abrigar da chuva.
Os miseráveis e doentes da Cracolândia também não tiveram sorte. Anos de dedicação de assistentes sociais, ONGs e profissionais de saúde, de árduo trabalho com centenas de dependentes químicos, perdidos por conta de decisões políticas “desastrosas” (talvez “eficientes”, dependendo dos interesses em jogo). Um caso de saúde pública, criminalizado e tratado a base de bala e borracha. E um projeto: uma “nova luz”, caminho aberto ao “progresso” higienizante da gestão municipal da capital.
Que dizer das famílias de trabalhadoras e trabalhadores do Pinheirinho, em São José dos Campos? Quase uma década de ocupação. Pessoas que, simplesmente, reivindicavam e lutavam por um teto. Milhares de pessoas que, mesmo abandonadas pelo poder público, elevaram cada parede, cimentaram cada tijolo. Do outro lado, a repressão policial, pelas ordens de decisões judiciais favoráveis às solicitações de um especulador. A violência como resposta ao desejo de um lugar para viver e dormir.
A vida dos pobres, carentes e doentes não anda fácil. Decerto, nunca foi. Mas percorremos um caminho tortuoso, indigno e aterrorizante: uma trilha de violência e “progresso”. Mesmo sabendo que as populações pauperizadas tendem a ser criminalizadas e esquecidas, e que os viciados são habitualmente tomados por párias e bandidos, a mais explícita demonstração de violência e ação depredatória por parte do Estado, ou por atores cuja identificação não é possível esclarecer a priori, nunca deixa de nos surpreender. Talvez até esperamos que ocorra, mas com uma ponta de esperança de que aquilo seja absurdo demais para se materializar.
Em tempos em que tanto se fala de democracia, direitos e conquistas sociais, a execução de ações violentas em favor de interesses especulativos e de projetos de evidente proposta de “limpeza social”, assim como o aumento de incêndios sem procedência clara em favelas, apontam para uma realidade dura, excludente, desigual e mortífera. Uma realidade de contornos fascistas.
Na Itália das primeiras décadas do século XX, em defesa do fascismo, muito se falou do progresso e da violência. A guerra era uma porta aberta à purificação. Guerra era vida. A violência era o caminho para o progresso. Não assumir uma postura bélica era sinônimo de decadência e morte. O Estado, por sua vez, não negou estes princípios, fortalecendo o culto ao progresso e à violência.
Nos nossos dias, não parecemos ter superado os ideais fascistas. O Estado e a sociedade fundada no consumo desenfreado e na desigualdade de classes se vale, a sua maneira, dos mesmos instrumentos. É preciso livrar as ruas da gente suja para que o “progresso” tome lugar. Quem tem barraco tem que ceder lugar a quem tem dinheiro para pagar um casa “de verdade”. Quem tem habitação “no lugar errado” tem que sair de onde está.
As situações citadas são, apenas, alguns exemplos. O fascismo percorre o país, afetando populações ribeirinhas em Belo Monte, sem-terras assentados em Limeira, indígenas no Mato Grosso do Sul. Atingem movimentos populares na Espanha e na Grécia, e fortalecem ditaduras no mundo árabe.
Contra tudo isto, a resistência. O desejo de mudança e de justiça. A ousadia dos levantes populares contra os poderes estabelecidos. Nossa década se iniciou com o florescer das massas. Em diversos lugares do mundo, a história permanece em constante construção. Recusa-se o “fim da história”. Reivindica-se o “impossível”.
O que temos para o ano que se inicia? O que faremos diante de poderes que cada vez mais ousam legitimar sua violência? O que diremos àqueles que querem destruir o teto e a dignidade dos mais pobres? O que responderemos aos que recusam dar a mão àqueles que o Estado trata como sujeira jogada para debaixo do tapete?
Espero, sinceramente, que no novo ano acenda-se uma luz. Um alerta aos povos. E que eles tomem para si a iniciativa de construir um novo caminho. Uma trilha em que se aterre a violência dos poderosos, se destrua o domínio dos preconceitos e se dissolva as desigualdades que, constantemente, atentam à dignidade humana. Um desejo que muitos podem imaginar irreal, inalcançável, utópico. Mas, afinal, que outra alternativa temos a este fascismo persistente que corrói e perturba as nossas vidas?
Feliz ano novo. Por uma vida não fascista.
--------------------------------------
A frase que dá título a este texto é também o título de uma coletânea de trabalhos de Michel Foucault. Admito minha livre apropriação da mesma.
Sydnei Melo é mestrando em Ciência Política pela Unicamp. É autor do blog "A vida de Sydnei", onde foi publicada essa reflexão de Ano Novo. Cristão, sempre se posicionou sem medo sobre isso. Está sempre por aqui também, e a última vez, inclusive, foi justamente com uma reflexão de Ano Novo, com "Dona Maria José".