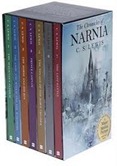“Money
is the reason we exist, everybody knows it, it’s a fact, kiss
kiss”. A princípio, uma afirmação assim peremptória sobre a
natureza humana deveria causar asco, sobretudo àqueles que, como
nós, recebem este conteúdo cultural no contexto da ‘cruzada
civilizatória’ empreendida por uma nação que aspira a ascensão
a outro patamar de desenvolvimento econômico. Isto é, a frase
extraída da música National Anthem,
de
Lana Del Rey, deveria causar reações polarizadas e excludentes: ou
reclamaria uma adesão irrefletida por quem, sem muitos problemas de
consciência, consome produtos ideológicos vindos sobretudo dos EUA,
ou motivaria rejeição imediata. Confesso que tenderia a me encaixar
neste segundo grupo, ainda mais quando o assunto são cantoras pop
que a todo momento nos são enfiadas goela abaixo. Mas há algo em
Lana Del Rey que desestabiliza esta polarização e – pasmem –
cria uma identificação das intenções da cantora conosco,
habitantes do famigerado terceiro
mundo.
Quem
é familiarizado com a crítica de arte produzida durante o século
XX sabe que, paulatinamente, o vocabulário que opunha verdadeiro
e
falso,
essência
e
aparência
foi
abandonado. Aqui não é o lugar para se refletir sobre este
movimento crítico; talvez reste somente a hipótese de que o
movimento que caracteriza a indústria cultural seja precisamente a
vitória da aparência sobre a essência, ou a vitória do falso
sobre o verdadeiro. Isto não significa uma reivindicação ingênua
de uma ‘essência perdida’ da arte, à qual deveríamos voltar.
Significa somente que, assim como quase tudo, também a arte se
transformou em produto, e, sendo assim, toma parte no jogo de
fetichização caro à produção de mercadorias. Em que
constituiria, neste sentido, a essência da arte? Em uma pílula,
seria o fascínio diante do desajuste entre o pensamento e a
realidade. O pensamento artístico seria, portanto, essencialmente
angustiado
por
encarar, a todo momento, esta inadequação fundamental. Diante deste
quadro, o que seria a arte falsa?
Seria a arte fetichizada, isto é, transformada em objeto
completamente
manipulável. Uma arte que não é mais expressão de angústia
diante do desconhecido, que não traz em si nenhum rastro de
opacidade. Ao contrário, trata-se de uma expressão artística que é
absolutamente luminosa, segura de si, e expressaria esta segurança
no aparato técnico que lhe dá suporte. Podemos ver isto claramente
no âmbito da música, sobretudo esta feita em escala industrial, em
que tudo
é
contornável, ao ponto de nos perguntarmos (como bem me disse Felippe
Pompeo no último fim de semana) se aquilo foi realmente executado
por um ser humano que, obviamente, é passível de erro. Trocando em
miúdos, vivemos a era do autotune
porque
vivemos a era do fetiche.
Voltemos à frase que abre este texto. Dizer que o dinheiro é a razão pela qual existimos é, em um primeiro plano, algo que, de tão desconcertante, a afasta de lições de boa conduta e moral – um pouco próximo da auto-ajuda – que encontramos em Lady Gaga (Born this way, por exemplo) ou Beyoncé (cuja produção é recheada do novo “poder” feminino). A frase de Lana parece almejar o desconforto: ao contrário de suas colegas, sua mensagem não é “você também é especial e poderoso”, mas “você é insignificante, mera mercadoria”. Este segundo sentido é potencializado pela drástica tensão contida em sua música: em todo o álbum, não somente nesta canção, é possível encontrar frases de teor desconcertante – seja quanto à consciência de que ela mesma é uma mercadoria da indústria, seja no que toca a construção da feminilidade em consonância com a construção da posição de objeto de fetiche – entremeadas a afirmações plenas de consequências: “winning and dining, drinking and driving, excessive buying, overdose and dying, on our drugs and our love and our dreams and our rage, blurring the lines between the real and the fake”. Tenho dificuldades em achar um exemplo melhor de uma produção tão potente quanto esta, tão consciente de si, feita nos últimos anos de indústria musical.
Se
tudo isto é uma estratégia de marketing, é difícil dizer.
Arriscaria inclusive afirmar que a questão pouco importa. Como
afirma a própria Lana, sua música traz consigo a capacidade de
borrar os limites entre o falso e o verdadeiro, precisamente por se
colocar no exato ponto em que a arte se transforma em mercadoria
(aqui até mesmo sua controversa participação no programa Saturday
Night Live
se
reveste de interessante caráter inquietante). Neste ponto, questões
como esta acabam perdendo a função. O que resta de crítico em sua
música diz respeito a este olhar desconcertante que nos é lançado
da linha de montagem da indústria cultural: algo como um olhar
petrificante e resignado, de uma moça que sabe que está prestes a
se transformar em produto de fetiche, seja sexual, seja musical. Este
olhar que nos tira de nossa posição confortável de meros
consumidores, seja de mulheres, seja de arte. Trata-se de um olhar
que diz: “você pode me consumir, mas tenha consciência de que
consome um objeto falso, e que o único instante de verdade nisto
será precisamente esta rápida fagulha de consciência”.
Curiosamente, como aventado no começo deste texto, há uma
proximidade entre esta posição – criada à revelia por Lana no
cerne da indústria – e a nossa. Nós, enquanto coadjuvantes do
mundo ‘civilizado’, enquanto meros aspirantes, falamos deste
mesmo lugar: daquilo que está na esteira da fábrica, prestes a ser
processado. Há com isto um distanciamento – mínimo, é verdade –
essencial quanto à ideologia: algo que a música de Lana cria à
força, como se abrisse espaço em meio à areia movediça que é o
consumismo norte-americano. Sua lição para nós, produtores de arte
em países marginais, é enigmática; mas por isto mesmo muito
poderosa.
Felipe Bier Nogueira insiste em ser torcedor do Palmeiras, mas tem habilidade entre Oito Mãos, e pode ser encontrado também em Nowhere Land.