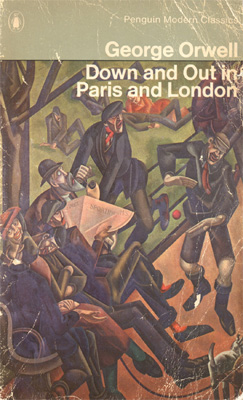Nos dois últimos fins-de-semana tive a oportunidade de assistir a dois filmes que entraram em cartaz nos cinemas: Melancholia, de Lars Von Trier, e Super 8, de J.J. Abrams. Ao primeiro, reservei certa dose de expectativa, não só porque o tema da melancolia me interessa diretamente, mas também por se tratar de mais uma obra do famoso e controverso cineasta dinamarquês. Bem, acabei vendo a película de Von Trier e, no fim das contas, saí do cinema pensando que o filme trata de alguns bons temas (além de ser, em termos de fotografia, muito bonito), mas da tal da melancolia pouco se fala. É certo que, se fosse necessário, à personagem de Kirsten Dunst poder-se-iam atribuir características melancólicas; no entanto, creio que a criação de uma situação fictícia da perspectiva de um choque interplanetário que, sem muita discussão, daria fim ao nosso planeta, deve necessariamente inclinar a crítica no sentido de colocar em suspenso a efetividade deste tratamento a um tema tão caro à nossa época.
Em tempo, diga-se que, apesar da figura do melancólico acompanhar a história das civilizações há muitos séculos, foi com o texto de Freud “Luto e Melancolia” que se cristalizaram os contornos modernos daquilo que se entende por melancolia. A saber, tratar-se-ia de um estado anímico que em muito se aproximaria do luto, com uma leve, porém essencial, diferença: trata-se do luto pela perda de um objeto de amor cuja existência é dificilmente localizável. Em um movimento textual elegante e sutil - caro aos textos do autor austríaco -, Freud demonstra como, por uma artimanha narcísica, a mente melancólica desloca o topos da perda do objeto para o próprio Eu. Desta maneira, ao contrário do luto normal - no qual se tem algo como um esvaziamento do mundo, que se torna cinza sem a presença do objeto amado -, o melancólico guarda em sua totalidade a ambigüidade do investimento amoroso em um constante e persistente ataque contra o seu próprio Eu: deste modo, ao ‘esconder’ o real objeto de sua paixão e, sobretudo, ao elidir a natureza da decepção sofrida, por meio de um furioso investimento contra uma parte de si próprio, o melancólico escapa daquele que é o fatídico fim de todo processo de luto: a aceitação de que aquilo que tanto amamos se perdeu.
Pois bem, no filme de Lars Von Trier supostamente se tem uma melancólica. Justine, na primeira parte da obra, luta para levar a cabo o seu casamento; esforça-se para lidar com uma família disfuncional e não assistir em primeira mão ao próprio desmonoramento de seu Eu; de forma trôpega tenta manter-se fiel às formalidades que um evento como este exige etc. Não é necessário dizer que, ao fim, acaba se tratando de uma tentativa em vão: o ritual fracassa com toda a pompa que lhe foi reservada. Na segunda parte do filme, tem-se maior atenção à questão da possível colisão do planeta Melancholia com a Terra. E, neste ponto, quem entra em cena é a irmã neurótica de Justine, que, ao mesmo tempo em que se mantém lúcida a respeito da verdadeira probabilidade de que encaremos a morte com um evento catastrófico, tenta encontrar subterfúgios para evitar esta verdade: mecanismo de auto-sabotagem que somente nós - os neuróticos - conhecemos tão bem.
À primeira vista, a idéia de botar o nome de um planeta em rota de colisão com a Terra de Melancholia me pareceu algo bastante interessante: tal qual dizer em alto e bom som acerca da capacidade do nosso tempo de nos fazer confrontar com a morte sem possibilidade de luto, a morte daquilo que, na fase mais avançada do capitalismo, se tornou seu bem mais precioso: a promessa de felicidade. Penso ser por isso que o filme de Von Trier ganha particular força em sua segunda metade: é neste momento em que, dizendo de maneira bem esquemática, a melancólica anuncia sua vitória sobre a neurótica. E por isso Justine assiste à destruição da vida como conhecemos com um sorriso irônico no rosto, diante das tentativas vãs da irmã de encontrar abrigo para este destino inevitável.
Mas é também aí onde mora, a meu ver, a fraqueza do roteiro: não só porque o manjadíssimo esquema ‘radical’ de destruição da Terra como forma de causar mal-estar pode servir tanto para a abertura de uma larga brecha ao heroísmo (vide a tendência inaugurada pelos filmes de catástrofe da década de 90) como também, exatamente por sua incontornabilidade, pode ocultar as próprias formas que o constante luto pela derrocada da promessa abrigada em Shopping Malls e condomínios fechados podem adquirir. Ou seja, ao contrário da tristeza melancólica, nutrida pela modernidade, na qual a libido se agarra morbidamente a qualquer promessa de gozo farto e vazio, real e fantasmático, o motivo da nossa desgraça, no filme de Von Trier, é facilmente localizável. Isto é, trocando em miúdos, Melancholia não se parece, para mim, com um filme feito sob a perspectiva do melancólico pelo simples fato de a ameaça vir de fora e não deixar qualquer fresta para sua superação. Ao fazer-se valer de um sádico desfecho, a obra de Lars Von Trier esquiva-se de adentrar a (possivelmente) complexa mente de Justine e, com isso, evita de tocar na ferida do melancólico que existe em todos nós. O que resta, ao fim, é um frustrante sentimento de que nem mesmo o luto nos é legado como possibilidade de lidar com o castelo de decepção que, em nosso tempo, guardamos com tanto zelo.
Se é possível traçar algum tipo de relação entre Melancholia e Super 8, filmes de extrações tão diversas, ela deve passar precisamente pela centralidade que este tema da decepção exerce em ambos. O filme de J.J Abrams inicia-se desta forma: sua primeira seqüência nos informa da morte da mãe de Joe Lamb, um garoto beirando os seus 13 anos, habitante de uma cidadezinha no interior do estado americano de Ohio. O filme constrói-se como uma clara homenagem/retomada das já clássicas produções de aventura da década de 80, a maioria delas encabeçadas por Steven Spielberg: Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ET, The Goonies e o tardio Jurassic Park. Para quem cresceu vendo estes filmes e, posteriormente, assistiu à completa subversão do gênero de ação nos anos 90 - nos quais, se é possível dizer, acompanhou-se a tendência à vitória dos efeitos especiais sobre os dramas humanos -, Super 8 traz o reconfortante sentimento de um equilibrado filme de aventura, no qual o mistério que acomete a pequeníssima cidade se desvela ao mesmo passo em que seus personagens juvenis - todos atravessando a difícil passagem da infância para a adolescência e lidando com o duro ‘princípio de realidade’ que inevitavelmente acompanha este processo - encontram maneiras de realocar suas fantasias, dores e desejos.
De fato, a grande interrogação que se enraizou na minha mente após sair da sala de cinema na qual foi exibido Super 8 foi a seguinte: o que há de tão fascinante em filmes de aventura encenado por pré-adolescentes? É claro que, neste caso, não posso negar a identificação que estabeleci com os garotos do filme: também, nos anos mais difíceis da minha juventude, recorri ao hobby de produzir filmes caseiros igualmente toscos, previsíveis, mas que mobilizavam uma grande carga de energia criativa (por isso o nome Super 8, alusão ao tipo de película que os garotos utilizam para filmar as cenas de seu inocente e engraçado filme de zumbi). Mas, para além disso, este gênero tem algo de especial, algo que só me veio à consciência após ter visto este filme que, lançado em 2011, parece iluminar retrospectivamente todas as produções de aventura da década de 80. Este ‘algo a mais’ é o trabalho sobre o luto. De certo não é o tipo de filme que, na feliz expressão de um amigo, faz você sair da sala de cinema com um ‘bolo preto’ para se digerir durante a semana. O seu tratamento fantástico e, de certo modo, o acabamento dado pelos clichês de aventura, impedem que o luto seja encarado de frente, e, com isso, evita que o espectador acabe sobrepondo a tristeza ao entretenimento. Contudo, o luto acaba sendo uma espécie de sujeito oculto em todos estes filmes, muitas vezes obscurecido pelas sombras dos próprios monstros que ele erige para sua superação.
Este é um filme no qual a afirmação ‘uma coisa só é monstruosa porque está próxima demais’ ganha ares muito verdadeiros. Com efeito, ao contrário da tendência atual - que se carrega desde a década de 90 - de localizar nos monstros uma alteridade radical (que muitas vezes só serve para afirmar uma também radical e autoritária identidade), cujo desígnio não é outro senão destruir aquilo que mais amamos (nosso precioso cotidiano), o monstro de Super 8 encara nos olhos o menino enlutado e afirma, tal qual uma superfície especular: ‘eu sou você, meu desejo é o seu’. Assim, construindo-se sobre esta fascinante ambigüidade, o filme de J.J Abrams (produzido por Spielberg), inevitavelmente guarda um parentesco com a produção de 1986 Stand by me (em português, Conta comigo), o clássico filme estrelado por River Phoenix que gira em torno da busca de alguns garotos de uma também minúscula cidade americana pelo corpo de um garoto atropelado por um trem. Como manda o consagrado esquema dos filmes de aventura, toda sua carga dramática se aloca no percurso dos meninos que, sem exceção, debatem-se no seio de famílias que colapsaram sobre a própria promessa de felicidade. E, ao fim, também neste filme dos anos 80 o que se revela é que o objetivo da saga (encontrar o corpo do garoto morto) vale menos do que a busca em si. Em outras palavras, a grande descoberta destes rapazes é a de olhar para o corpo já putrefato e também ouvir dele: ‘eu sou vocês’, amarga lição que coincide com a entrada na idade adulta.
Portanto, não é por acaso que estes filmes trazem um delicioso respiro de nostalgia para todos aqueles que já passaram ou passam por um processo de luto. É certo que todas estas obras encerram um falso conteúdo ideológico, cristalizado por seus finais mais ou menos harmoniosos. Mas, se é possível amenizar esta acusação, eu diria que a o efeito de ilusão criado por tais filmes é de fundamental importância para trazer aquele que a eles assiste ao ponto no qual, ao se deixar enganar, se é confrontado com sua própria verdade. De fato, é quase possível afirmar que tais filmes operam com o tema luto de uma forma mítica: ao mesmo tempo em que elidem sua raiz na violência da separação, deslocando o monstro para outro lugar que não nós mesmos, eles não negam que bebem nesta fonte: pelo contrário, o efeito inebriante que é lançado sobre o espectador o joga em meio a esta torrente juvenil de dúvidas, dores, esperanças, medos e desejos, enfim, tudo aquilo que nos faz identificarmo-nos tanto com a saga destes garotos em busca de compreender a sua própria dor. Talvez seja este o grande trunfo de Super 8 se o compararmos a Melancholia: de um planeta ausenta-se qualquer possibilidade de humanização. Desta feita, o que posa como destino, no último, é apenas a culpa marcada em pedra, sadicamente tecida pelas mãos do diretor. Já a dor do luto, nos filmes de aventura, apenas aponta para um novo uso do amor: no fundo o grande monstro que, dentro de todos nós, exige e espera, urra e agride, destrói o lar para onde passamos a vida tentando voltar.
Felipe Bier Nogueira é palmeirense, mas ninguém acerta sempre, é verdade! Apesar disso, ele se defende bem com
Oito Mãos, e está a salvo em
Nowhere Land!